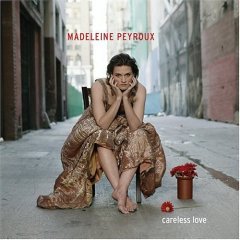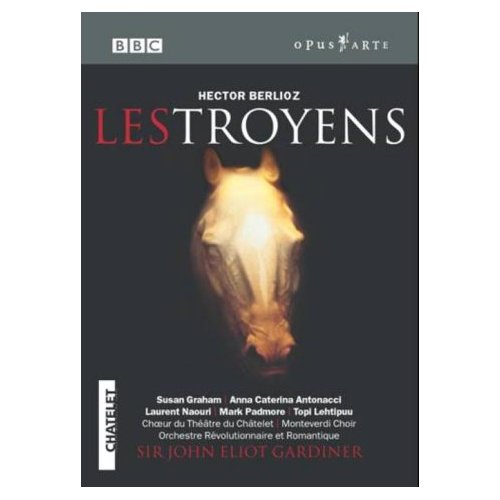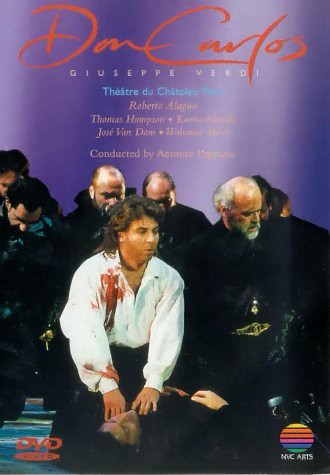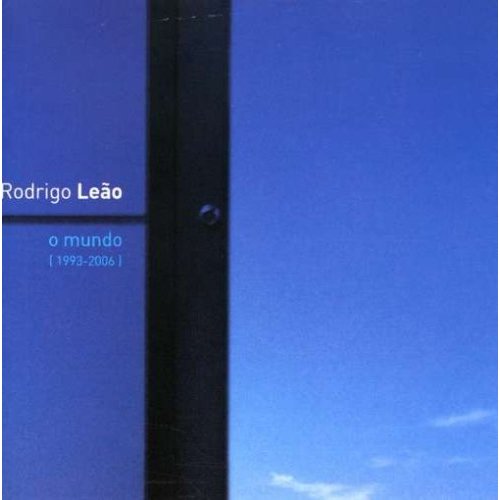Aix acolhe um dos mais reputados e distintos festvais de verão.
Eis, em síntese, o essencial do rico programa da 60ª edição do Festival d'Aix-en-Provence:
«Aix offre de nombreuses premières. Le ténor wagnérien Ben Heppner chantera pour la première fois de sa carrière Siegfried, samedi. Dimanche, au Théâtre du Jeu de paume, aura lieu la création mondiale de Passion de Pascal Dusapin, artiste en résidence. Cosi fan tutte, le premier opéra donné il y a soixante ans, sera, anniversaire oblige, également au programme dans une mise en scène du cinéaste iranien Abbas Kiarostami. Et les piliers aixois seront au rendez-vous, René Jacobs pour l'oratorio Belshazzar de Haendel et William Christie à la tête des chanteurs et de l'orchestre de l'Académie européenne de musique, qui fête ses dix ans, dans une interprétation de concert de The Fairy Queen de Henry Purcell.»

Escusado será dizer que Siegfried constitui o ponto alto das festividades, une sorte de cerise sur le gateau! Heppner - o meu tenor wagneriano -, a Filarmónica de Berlim e Rattle... eis uma preciosidade!
Se a isto juntarmos uma mise-en-scène de inspiração psicanalítica...
«(...) mais l'histoire d'un héros malgré lui, un peu brut de décoffrage, qui découvre, après avoir reforgé le glaive de son père, tué un dragon, écouté un oiseau de bon augure et réveillé une jeune femme endormie sur un rocher, ses propres origines et à quoi sert une érection.
Siegfried est chanté par un formidable Ben Heppner, aux allures de vieux bébé Gargantua, dont la naïveté phallique fanfaronne cor aux lèvres mais s'affaisse dans l'émouvant abandon du manque maternel.
DIALOGUE DE DUPES
La mise en scène de Stéphane Braunschweig, fondée sur une manière de "psychanalyse de conte de fées" (ce dont n'est pas si éloigné Siegfried), n'est pas de celles qui pèsent ou qui posent. Elle ne pratique pas l'impair non plus. Mais elle est truffée d'images symboliques et d'objets transitionnels (la poupée de chiffon de Siegfried, le gros serpent avec lequel Mime tente de lui apprendre la peur, l'antre rouge et matriciel du dragon). Une mise en scène toujours fine en ce qu'elle développe une savante méticulosité quant au travail sur les corps.»

(Siegfried, de Richard Wagner, Festival d'Aix-en-Provence, 2008)